O debate em torno do projeto de lei 5.582/2025, conhecido como PL Antifacção, e seu substitutivo, atualmente em discussão na Câmara Federal, tem sido impulsionado por um discurso de urgência. Uma estratégia semelhante foi adotada pelo governo de Dilma Rousseff após os eventos de Junho de 2013. O resultado direto foi a aprovação da Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013, a atual Lei de Organizações Criminosas. Mesmo que de forma um tanto desajeitada, essa lei foi amplamente utilizada pela operação Lava Jato, que, entre outras coisas, levou ao impeachment da então presidente e à prisão do atual. Agora, com poucas mudanças, o governo volta a recorrer a um projeto de lei para lidar com uma realidade cada vez mais complexa. A promessa, renovada com urgência, é simples: intensificar as punições para reestruturar a relação do Estado brasileiro com o crime organizado. Mas essa abordagem legislativa realmente aborda a complexidade do problema? Uma análise cuidadosa revela que não. Tanto o texto original quanto o substitutivo, este último elaborado pelo secretário de segurança pública de São Paulo e deputado federal Guilherme Derrite, partem de um diagnóstico limitado, atribuindo a proliferação e o fortalecimento das facções criminosas à falta de instrumentos legais e à insuficiência de penas. Essa visão desvincula o crime organizado das dinâmicas sociais, econômicas e institucionais que o sustentam, ignorando as mercadorias que impulsionam sua economia
. Em vez de atacar esses fatores estruturais, as propostas se concentram quase exclusivamente em aumentar as punições, criar novos tipos penais e agravar as penas existentes. A experiência e a pesquisa em criminologia demonstram que essa abordagem fortalece a seletividade penal, sem alterar a capacidade de organização dos grupos criminosos. Outro ponto preocupante é a técnica legislativa. O projeto e o substitutivo introduzem categorias como “facção criminosa” e “organização criminosa ultraviolenta”, que se sobrepõem à definição já estabelecida de organização criminosa na Lei 12.850/2013. A criação de novos termos não vem acompanhada de maior precisão conceitual; ao contrário, utiliza expressões vagas, como “domínio social estruturado” e “intimidação comunitária”. São termos com forte apelo retórico, mas frágeis em termos de taxatividade penal, aumentando a margem de discricionariedade dos órgãos de investigação e acusação, com risco evidente de uso excessivo e inconsistente do poder punitivo estatal. O substitutivo agrava essa situação ao estabelecer um regime quase autônomo, com medidas excepcionais que permitem bloqueios de bens, intervenção em empresas e presunções de ligação com grupos criminosos a partir de registros administrativos. Embora negue ser legislação antiterrorista, vários elementos se assemelham a esse tipo de regime — mas sem as salvaguardas e limites próprios das normas excepcionais, consolidando um modelo que, na Itália dos anos 1990, Sergio Moccia chamou de “perenne emergenza”. Isso, no mínimo, tensiona princípios constitucionais como legalidade estrita, proporcionalidade e presunção de inocência, além de aproximar o sistema jurídico brasileiro de áreas de conflito em relação a tratados internacionais, como a Convenção Americana de Direitos Humanos. Na prática, medidas vagas e amplas tendem a atingir territórios periféricos e populações racializadas, exacerbando as desigualdades históricas do sistema penal. A ênfase excessiva em novos crimes e agravantes desvia a atenção das áreas onde o país mais precisa avançar: inteligência penitenciária, combate à corrupção, rastreamento financeiro sofisticado e coordenação interinstitucional. Sem isso, novas leis funcionam apenas como símbolos: geram notícias, indicam ação, mas não modificam o ecossistema que sustenta o crime organizado. O exemplo do Primeiro Comando da Capital (PCC) é ilustrativo. O PCC opera por meio de governança prisional, disciplina interna e redes econômicas, não por domínio territorial violento. As propostas legislativas não atingem o núcleo funcional dessas organizações, limitando-se a modelos de facções mais visíveis, como o Comando Vermelho, e, em alguns casos, milícias. O endurecimento das penas, por si só, terá um impacto marginal e simbólico, sem efeito prático sobre o funcionamento do PCC, podendo apenas aumentar o encarceramento sem ganhos estratégicos. Além disso, a coexistência de múltiplas categorias paralelas de crime organizado pode gerar fragmentação jurisprudencial e disputas interpretativas, sem resultados reais na repressão. O mosaico normativo criado pelo PL, pelo substitutivo e pela legislação existente tende a causar instabilidade e disputas estratégicas, dependendo dos interesses da acusação. Pode até favorecer um grupo criminoso em detrimento de outros. Por fim, é preciso considerar o contexto internacional. O PL 5.582/2025 e seu substitutivo se alinham a uma tendência latino-americana atual de endurecimento penal maximalista, caracterizada pela expansão de categorias penais abertas, aumento de instrumentos cautelares e flexibilização de garantias processuais. Esse movimento, presente em países como El Salvador e México, e reforçado pela rearticulação da Doutrina Monroe sob a administração Trump, prioriza a repressão em detrimento da inteligência, a criminalização em vez da prevenção e a excepcionalidade sobre a constitucionalidade. Em resumo, o PL 5.582/2025 e seu substitutivo geram impacto retórico, e, em certa medida, eleitoral, mas não trarão mudanças estruturais. Para combater o crime organizado, é necessário ir além do endurecimento penal e investir em inteligência, prevenção e integração institucional. Sem isso, reformas penais em larga escala correm o risco de repetir o ciclo do punitivismo simbólico: muita notícia, nenhuma transformação – algo que o número alarmante de mortes causadas pelo modelo que se busca aprofundar exige urgentemente. O debate sobre o projeto de lei 5.582/2025 e seu substitutivo, atualmente em pauta na Câmara Federal, tem sido marcado por uma retórica de urgência. Uma estratégia semelhante foi adotada pelo governo de Dilma Rousseff após os eventos de Junho de 2013. O resultado direto foi a aprovação da Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013, a atual Lei de Organizações Criminosas. Mesmo que de forma um tanto desajeitada, essa lei foi amplamente utilizada pela operação Lava Jato, que, entre outras coisas, levou ao impeachment da então presidente e à prisão do atual. Agora, com poucas mudanças, o governo volta a recorrer a um projeto de lei para lidar com uma realidade cada vez mais complexa. A promessa, renovada com urgência, é simples: intensificar as punições para reestruturar a relação do Estado brasileiro com o crime organizado. Mas essa abordagem legislativa realmente aborda a complexidade do problema? Uma análise cuidadosa revela que não. Tanto o texto original quanto o substitutivo, este último elaborado pelo secretário de segurança pública de São Paulo e deputado federal Guilherme Derrite, partem de um diagnóstico limitado, atribuindo a proliferação e o fortalecimento das facções criminosas à falta de instrumentos legais e à insuficiência de penas. Essa visão desvincula o crime organizado das dinâmicas sociais, econômicas e institucionais que o sustentam, ignorando as mercadorias que impulsionam sua economia. Em vez de atacar esses fatores estruturais, as propostas se concentram quase exclusivamente em aumentar as punições, criar novos tipos penais e agravar as penas existentes. A experiência e a pesquisa em criminologia demonstram que essa abordagem fortalece a seletividade penal, sem alterar a capacidade de organização dos grupos criminosos. Outro ponto preocupante é a técnica legislativa. O projeto e o substitutivo introduzem categorias como “facção criminosa” e “organização criminosa ultraviolenta”, que se sobrepõem à definição já estabelecida de organização criminosa na Lei 12.850/2013. A criação de novos termos não vem acompanhada de maior precisão conceitual; ao contrário, utiliza expressões vagas, como “domínio social estruturado” e “intimidação comunitária”. São termos com forte apelo retórico, mas frágeis em termos de taxatividade penal, aumentando a margem de discricionariedade dos órgãos de investigação e acusação, com risco evidente de uso excessivo e inconsistente do poder punitivo estatal. O substitutivo agrava essa situação ao estabelecer um regime quase autônomo, com medidas excepcionais que permitem bloqueios de bens, intervenção em empresas e presunções de ligação com grupos criminosos a partir de registros administrativos. Embora negue ser legislação antiterrorista, vários elementos se assemelham a esse tipo de regime — mas sem as salvaguardas e limites próprios das normas excepcionais, consolidando um modelo que, na Itália dos anos 1990, Sergio Moccia chamou de “perenne emergenza”. Isso, no mínimo, tensiona princípios constitucionais como legalidade estrita, proporcionalidade e presunção de inocência, além de aproximar o sistema jurídico brasileiro de áreas de conflito em relação a tratados internacionais, como a Convenção Americana de Direitos Humanos. Na prática, medidas vagas e amplas tendem a atingir territórios periféricos e populações racializadas, exacerbando as desigualdades históricas do sistema penal. A ênfase excessiva em novos crimes e agravantes desvia a atenção das áreas onde o país mais precisa avançar: inteligência penitenciária, combate à corrupção, rastreamento financeiro sofisticado e coordenação interinstitucional. Sem isso, novas leis funcionam apenas como símbolos: geram notícias, indicam ação, mas não modificam o ecossistema que sustenta o crime organizado. O exemplo do Primeiro Comando da Capital (PCC) é ilustrativo. O PCC opera por meio de governança prisional, disciplina interna e redes econômicas, não por domínio territorial violento. As propostas legislativas não atingem o núcleo funcional dessas organizações, limitando-se a modelos de facções mais visíveis, como o Comando Vermelho, e, em alguns casos, milícias. O endurecimento das penas, por si só, terá um impacto marginal e simbólico, sem efeito prático sobre o funcionamento do PCC, podendo apenas aumentar o encarceramento sem ganhos estratégicos. Além disso, a coexistência de múltiplas categorias paralelas de crime organizado pode gerar fragmentação jurisprudencial e disputas interpretativas, sem resultados reais na repressão. O mosaico normativo criado pelo PL, pelo substitutivo e pela legislação existente tende a causar instabilidade e disputas estratégicas, dependendo dos interesses da acusação. Pode até favorecer um grupo criminoso em detrimento de outros. Por fim, é preciso considerar o contexto internacional. O PL 5.582/2025 e seu substitutivo se alinham a uma tendência latino-americana atual de endurecimento penal maximalista, caracterizada pela expansão de categorias penais abertas, aumento de instrumentos cautelares e flexibilização de garantias processuais. Esse movimento, presente em países como El Salvador e México, e reforçado pela rearticulação da Doutrina Monroe sob a administração Trump, prioriza a repressão em detrimento da inteligência, a criminalização em vez da prevenção e a excepcionalidade sobre a constitucionalidade. Em resumo, o PL 5.582/2025 e seu substitutivo geram impacto retórico, e, em certa medida, eleitoral, mas não trarão mudanças estruturais. Para combater o crime organizado, é necessário ir além do endurecimento penal e investir em inteligência, prevenção e integração institucional. Sem isso, reformas penais em larga escala correm o risco de repetir o ciclo do punitivismo simbólico: muita notícia, nenhuma transformação – algo que o número alarmante de mortes causadas pelo modelo que se busca aprofundar exige urgentemente. * Marco Alexandre Souza Serra é advogado criminal e popular. Doutor em direito penal pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pós-doutor em criminologia pela Universidad Nacional del Litoral (Argentina). Atualmente é pesquisador no Instituto de Pesquisa, Direitos e Movimentos Sociais (IPDMS) e no Observatório das Metrópoles. ** As opiniões contidas neste artigo não necessariamente refletem as do Brasil de Fato
📝 Sobre este conteúdo
Esta matéria foi adaptada e reescrita pela equipe editorial do TudoAquiUSA
com base em reportagem publicada em
Brasildefato
. O texto foi modificado para melhor atender nosso público, mantendo a precisão
factual.
Veja o artigo original aqui.




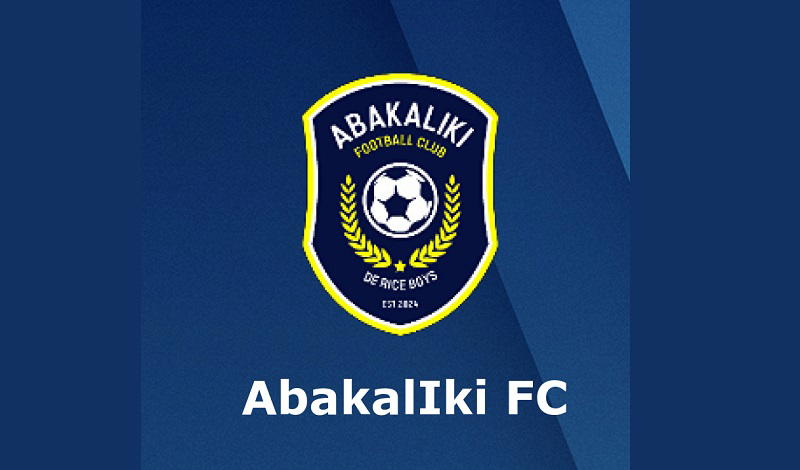




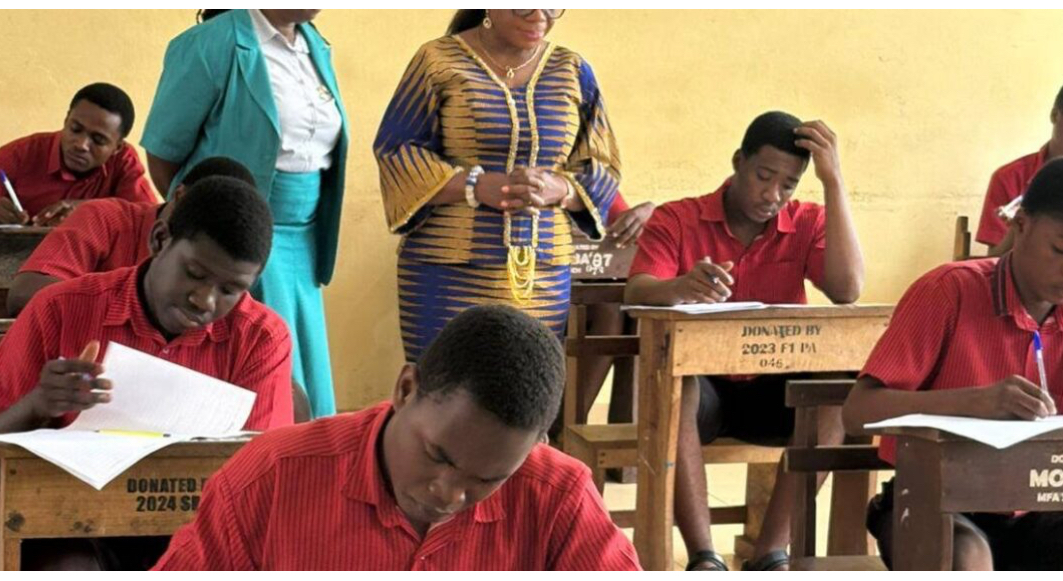
0 Comentários
Entre para comentar
Use sua conta Google para participar da discussão.
Política de Privacidade
Carregando comentários...
Escolha seus interesses
Receba notificações personalizadas