No Brasil, muitos veem os povos indígenas como os principais guardiões da natureza, um dado reforçado por uma pesquisa recente do Greenpeace. O estudo revelou que 80% dos entrevistados confiam mais nos grupos indígenas do que em qualquer outra instituição nacional para cuidar das florestas. Contudo, o fluxo global de dinheiro destinado à proteção ambiental opera de forma diferente, com os povos indígenas e comunidades tradicionais, como os quilombolas, recebendo menos de 1% dos fundos para projetos de preservação e mitigação climática. Essa disparidade, apontada em um relatório de 2021 da Rainforest Foundation Norway (RFN), demonstra um paradoxo socioambiental preocupante. A dificuldade em gerenciar essas transferências financeiras é um dos principais obstáculos para que o dinheiro chegue às comunidades. Sem uma estrutura adequada, muitas comunidades brasileiras continuam dependentes de organizações na cadeia de financiamento, como ONGs internacionais e iniciativas estatais. A análise da RFN indica que esse modelo disperso tem falhas, incluindo a dependência de intermediários, que eleva os custos operacionais e reduz o montante que chega às comunidades locais. Além disso, as estruturas de financiamento tradicionais impõem prazos e burocracias que limitam a autonomia local. Diante dessas lacunas, o Brasil testemunha o surgimento de fundos comunitários indígenas, que buscam simplificar o acesso ao financiamento para grupos historicamente marginalizados
. Iniciativas como o Fundo Indígena Rio Negro (FIRN), o Fundo Rutî, o Fundo Timbira e o Podáali, possuem estruturas para gerenciar os recursos doados, com supervisão das próprias comunidades, especialmente na Amazônia. Essas iniciativas visam atrair recursos de financiadores estrangeiros para projetos de preservação socioambiental, adotando um modelo de financiamento direto que, segundo seus líderes, está em ascensão no Brasil e no exterior. A maioria desses fundos surgiu como legado da pandemia de COVID-19, enquanto outros foram estabelecidos mais recentemente, como o Fundo Jaguatá, associado à Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB).
Com a Conferência do Clima da ONU (COP30) em Belém, porta de entrada para a Amazônia brasileira, organizações e autoridades vislumbram uma oportunidade para angariar mais apoio às ações ambientais lideradas pelos povos tradicionais. O evento, que atrai tomadores de decisão de todo o mundo, também gera expectativas em torno de novos projetos com grandes investimentos, como a iniciativa Tropical Forests Forever Facility (TFFF), do governo brasileiro, que visa recompensar países e gestores florestais pela preservação das florestas tropicais, já tendo garantido mais de US$ 5,5 bilhões em financiamento. No entanto, os desafios são significativos. Torbjørn Gjefsen, assessor sênior da RFN, ressalta que, embora avanços importantes tenham sido feitos, a transição para um financiamento mais direto ainda está por vir. Dados atualizados da RFN mostram que, apesar do aumento, o volume de financiamento para povos indígenas e comunidades tradicionais permanece abaixo de 1%.
Diante desse cenário, diversas campanhas foram lançadas antes da COP30. Uma delas, a rede “We Are The Answer”, propõe ações sob liderança indígena para enfrentar os desafios ambientais, com foco no acesso direto ao financiamento climático. O projeto, criado em 2024 pela Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), defende que os recursos devem ir diretamente para as comunidades que estão na linha de frente da crise climática. Francineide Marinho, gestora do FIRN, destaca que os fundos buscam reconhecimento pelo conhecimento e pelas ferramentas que os grupos indígenas utilizam para proteger a natureza, combatendo a imagem de “território inativo”. A rede inclui outras iniciativas, como o Fundo Timbira, que envolve os povos indígenas Apinajé, Krahô, Krikati e Gavião. Em vez de depender de financiadores internacionais, o projeto Timbira se baseia em compensações de longo prazo, como o pagamento por danos causados pela construção da Usina de Estreito em 2012. Jonas Gavião, membro do comitê executivo da agência que implementa o Fundo Timbira, acredita que novos recursos podem ampliar as ações do projeto, especialmente no combate à insegurança alimentar e na promoção da cultura e proteção territorial.
A consolidação desses projetos financeiros levanta uma questão crucial: como estruturar soluções financeiras que considerem as necessidades específicas de cada comunidade. Essa é uma das prioridades do Podáali, o Fundo Indígena da Amazônia Brasileira, que se apresenta como um dos primeiros mecanismos abrangentes para a coleta e redistribuição de recursos na região. Rose Meire Apurinã, vice-diretora do fundo, afirma que a criação de fundos indígenas desafia a lógica dos modelos de financiamento socioambiental convencionais. Josimara Baré, coordenadora do Fundo Rutî, vai além, classificando os fundos como uma estratégia de resistência, que busca mudar a dinâmica histórica em que os povos indígenas apenas recebem ordens e passam a construir seus próprios mecanismos financeiros.
No futuro, os fundos indígenas enfrentam obstáculos, como a falta de confiança de alguns doadores, que ainda não estão familiarizados com os novos modelos de financiamento, segundo Rose Meire. Ela defende prazos mais flexíveis e novos cronogramas para melhorar o processo. Muitas comunidades também enfrentam o desafio de transmitir o conhecimento sobre os fundos, além de barreiras fiscais e a falta de experiência em gestão. Marinho, do FIRN, aponta que a distância de grandes cidades dificulta a implementação de projetos, devido aos custos de viagem e à necessidade de notas fiscais. Dinaman Tuxá, coordenador executivo da APIB, demonstra otimismo em relação aos novos fundos, destacando os avanços na demarcação de terras e na resposta a emergências ambientais. Representantes dos fundos afirmam que não recebem apoio financeiro do governo, mas têm diálogo com agências governamentais, que, por sua vez, expressam apoio aos fundos e confirmam que não há recursos governamentais diretos. O Ministério dos Povos Indígenas e a Funai pretendem fortalecer a relação com os fundos durante a COP30, com o lançamento do Vítuke, um novo mecanismo financeiro. Lúcia Alberta Baré, diretora da Funai, ressalta que o governo é parceiro dos povos indígenas e que as iniciativas complementam os programas estatais.
A realização da COP30 na Amazônia é vista por muitos como um gesto simbólico importante. Rose Meire, do Podáali, acredita que o evento pode mudar perspectivas, mostrando o que está por trás da “imensidão verde” da Amazônia. A participação ativa das comunidades locais é considerada uma das principais vantagens na escolha do local para a cúpula do clima. A COP Village, uma colaboração entre o Ministério dos Povos Indígenas, COAIB, o governo do Pará e a Universidade Federal do Pará (UFPA), tem capacidade para receber até 3.000 representantes indígenas. Marinho, do FRIN, espera que o evento aumente a visibilidade dos projetos na Amazônia. Baré, do Fundo Rutî, pede cautela, destacando as contradições na retórica climática, enquanto as terras indígenas sofrem com o avanço da mineração e as queimadas. Gjefsen, da RFN, vislumbra um futuro mais claro para a relação entre as iniciativas brasileiras e os doadores, com potencial para mudar a dinâmica de poder em favor dos povos indígenas. Baré reconhece a necessidade de um “salto de fé” para implementar novas formas de financiamento, afirmando que é preciso correr riscos para promover grandes mudanças.
📝 Sobre este conteúdo
Esta matéria foi adaptada e reescrita pela equipe editorial do TudoAquiUSA
com base em reportagem publicada em
Mongabay
. O texto foi modificado para melhor atender nosso público, mantendo a precisão
factual.
Veja o artigo original aqui.


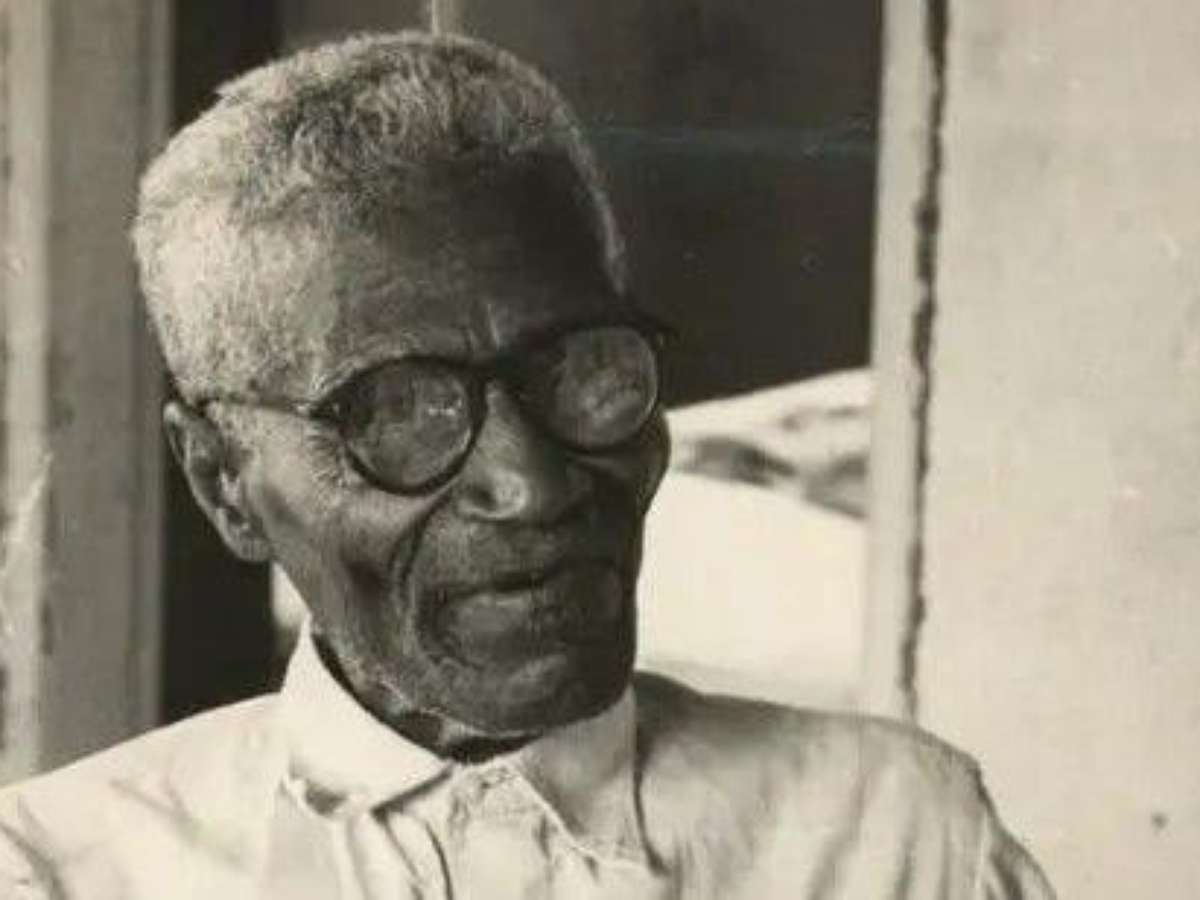






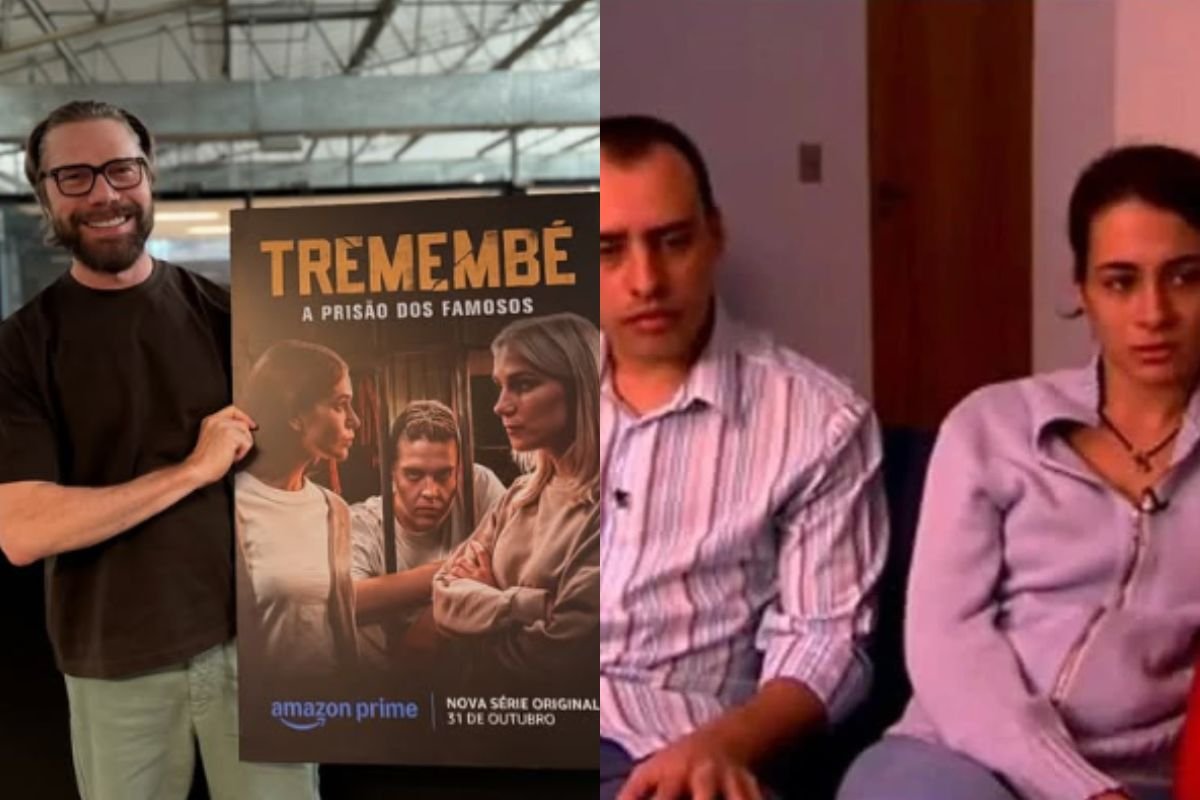
0 Comentários
Entre para comentar
Use sua conta Google para participar da discussão.
Política de Privacidade
Carregando comentários...
Escolha seus interesses
Receba notificações personalizadas